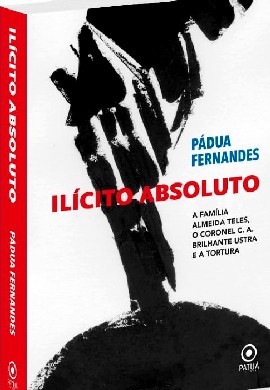
Ilícito Absoluto: A família Almeida Teles, o coronel C.A. Brilhante Ustra e a tortura
Em 1972, em plena ditadura militar, uma família inteira foi levada para o DOI-Codi de São Paulo: duas crianças de 4 e 5 anos (Edson e Janaína de Almeida Teles), os pais (Maria Amélia de Almeida Teles e César Augusto Teles) e a tia (Criméia Alice Schmidt de Almeida), que estava grávida de sete meses. Os adultos integravam o PCdoB, partido que estava proibido. As crianças foram levadas para vê-los na prisão. A mãe disse que nunca esqueceu a pergunta da filha: “por que você está azul e o pai, verde?”. Criméia foi torturada grávida, mas conseguiu ter seu filho, João Carlos, presa. Em 2005, a família propôs um processo contra o antigo chefe do DOI-Codi, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, para que fosse declarada a relação jurídica entre eles e o réu por prática de tortura. Em 2008, os pais e a tia ganharam em primeira instância: o juiz considerou que o DOI-Codi era uma “casa de horrores” onde se praticavam “ilícitos absolutos”. O réu acumulou derrotas judiciais: no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça e, pouco depois de falecer, no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a ação se desenrolava, a Lei de Anistia foi contestada judicialmente pela OAB, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da Guerrilha do Araguaia, criaram-se diversas comissões da verdade no país e o réu, postumamente, foi homenageado na votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff por um deputado que chegaria à Presidência da República poucos anos mais tarde. Como este processo pioneiro pôde obter êxito em um país ainda marcado pela impunidade dos crimes de lesa-humanidade e pela ingerência política dos militares? Ilícito absoluto conta essa história, que serviu de precedente para outras ações que tentam responsabilizar agentes da ditadura.
Editora Editora Patuá (9 dezembro 2023)
Capa comum 408 páginas
ISBN-10 6558646781
ISBN-13 978-6558646785
Memória e reparação
Dois títulos recuperam histórias íntimas e trágicas de famílias na ditadura e entram no campo de disputa sobre o passado do país
Luciana Silva Reis
Em julho deste ano, alunos do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram gravados cantando e dançando em celebração ao Massacre do Carandiru, em 1992. A lembrança daqueles 111 assassinatos — a maior parte cometido por policiais, alguns já condenados em júri popular – veio com ultraje. “Lá só tinha lixo, a escória, na moral”, cantam, como que para justificar o morticínio. “O cenário é de guerra, tipo Vietnã/ A minha continência, coronel Ubiratan”. O comandante da operação policial assassina não é esquecido em seu mérito.
Há onze anos, em 2013, outro coronel, este do Exército brasileiro, se viu diante de outra lembrança. Carlos Alberto Brilhante Ustra, confrontado com documentos e relatos de vítimas, negava, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade (CNV), ter cometido qualquer tipo de tortura ou assassinato no período em que comandou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna, o Doi-Codi, em São Paulo, entre 1970 e 1974. Como os soldados da Polícia Militar, não esquecia de reconhecer a cadeia de comando. Dizia aos integrantes da CNV ter apenas cumprido ordens durante sua carreira militar, motivo pelo qual, nas suas palavras, “quem deveria estar aqui [depondo] é o Exército brasileiro”.
Insistente em negar qualquer responsabilidade por atos ilícitos, Ustra também se safou de ter que discutir outro fato, ocorrido poucos anos antes: o de que havia sido declarado, pelo Judiciário brasileiro, responsável pela tortura da família Almeida Teles. A sentença de primeira instância, de 2008, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2012, e pelo Superior Tribunal de Justiça em 2014. É com essa memória de um esquecimento que o jurista e escritor Pádua Fernandes inicia Ilícito absoluto: a família Almeida Teles, o coronel C. A. Brilhante Ustra e a tortura, livro que detalha e documenta, em seu contexto histórico e político, um dos mais importantes casos do direito brasileiro no período de redemocratização.
Outro tentativa de recuperar memórias desse período vem no relato de Camilo Vannuchi. De volta ao presente, ouvimos o jornalista entrevistar alguns estudantes que encontra na sede do Diretório Central de Estudantes da Universidade de São Paulo (USP). Vannuchi aponta para a parede, onde há um grande retrato, em estêncil, de um jovem sério e de óculos. Alguns estudantes conhecem por alto a história daquela figura. Alguém ligado ao movimento estudantil, que teria vivido durante “a ditadura”. Mas nenhum sabe o nome do personagem, embora seja ele que batiza o espaço em que estavam — o DCE Livre Alexandre Vannucchi Leme.
Essa breve imagem de uma memória difusa ou ausente abre o podcast Eu só disse meu nome, série em quatro episódios narrada pelo próprio autor, que adapta o livro de mesmo título, uma comovente rememoração das atividades de Alexandre no movimento estudantil, seu sequestro pelos militares, sua morte sob tortura no Doi-Codi comandado por Ustra e de tudo que deriva desse encadeamento de fatos. No livro, o lugar do prólogo é ocupado, ao contrário do podcast, por uma memória viva e íntima. Camilo conta de quando, aos treze anos, o pai de um amigo lhe pergunta: “O que você é do Vannucchi?”, logo emendando, para explicar a que se referia ao adolescente que, até então, não conhecia toda a dimensão da história do parente famoso: “Do Vannucchi da USP”.
Os dois títulos poderiam ser classificados como obras sobre “a ditadura” e, em certo sentido, são mesmo. Mas, nas suas diferenças, o que os aproxima não é tanto o período histórico, e sim as lutas pela construção e reconstrução de memórias privadas e públicas. No centro de ambos, famílias cuja história passa pela fase mais dura do regime autoritário — quando prisões ilegais, tortura e assassinato se tornam políticas rotineiras do Estado — e chega ao período de lenta e incompleta retomada da democracia — quando mesmo as mais íntimas memórias familiares têm impacto público no campo aberto de disputas sobre a memória do próprio país.
Amnésia programada
Os títulos já revelam parte do que faz dos livros tão interessantes. Em um deles, uma expressão coletada da sentença judicial no centro da história — “ilícito absoluto” —, como o Judiciário brasileiro, na sentença de primeira instância, define as ações de Ustra contra os integrantes da família Almeida Teles. O livro é uma reconstrução minuciosa desse processo judicial, seus antecedentes e suas consequências. O processo e seu desfecho, com a condenação definitiva de Ustra, são, sob diversos aspectos, marcos do direito brasileiro, embora insuficientemente reconhecidos dessa maneira, como aponta Pádua Fernandes ao afirmar que escreveu o livro contra a “amnésia socialmente programada”, que tão claramente explicitou seus efeitos perversos com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder.
O processo retratado é a primeira ação de caráter cível, ou seja, sem imputar crimes, de autoria das próprias vítimas de tortura, contra um agente específico da ditadura, em sua pessoa física, e não de forma genérica contra o Estado. Além disso, o pedido foi, no vocabulário jurídico, “meramente declaratório”. Os autores não demandavam indenização, seu objetivo era que Ustra fosse declarado responsável pelas perseguições e torturas sofridas por Maria Amélia Teles, sua irmã Criméia, seu marido César Augusto, e seus filhos Edson e Janaína Teles — então crianças de cinco e seis anos, que, levadas à carceragem do Doi-Codi, presenciaram a violência contra os pais e a tia. O pedido, arquitetado pelo jurista Fábio Konder Comparato, deixava claro: a declaração era devida não só por Ustra “ter chefiado a famigerada operação Oban, e por ter comandado o Doi-Codi, mas também, e, sobretudo, por ter praticado pessoalmente os atos de tortura”.
Ao pedir uma declaração de responsabilidade civil, a ação era estrategicamente pensada para não conflitar com a Lei da Anistia. Resultou em enorme sucesso jurídico: uma sentença definitiva, confirmada por todas as instâncias do Judiciário em 2015, na qual há “o reconhecimento oficial da responsabilidade pessoal de Ustra pelas torturas sofridas por Maria Amélia, Criméia e César Augusto”. Esse tipo de reconhecimento, vindo do Estado brasileiro, é um marco na história da redemocratização do país, caracterizada pela constante isenção de responsabilizações individuais pelos inúmeros ilícitos cometidos por agentes da ditadura.
Eu só disse meu nome, por sua vez, foi a frase repetida por Alexandre Vannucchi Leme na carceragem do Doi-Codi. Como nos conta Camilo Vannuchi, opositores da ditadura, quando sequestrados pelos agentes de Estado, procuravam falar em alto volume seus nomes e organizações, na esperança de que suas informações pudessem ser levadas a parentes e companheiros que notassem seu desaparecimento. Submetido a torturas durante quase dois dias, Alexandre repetia seu nome completo, dizia ser estudante de geologia da USP e estar sendo acusado de integrar a Ação Libertadora Nacional (que de fato integrava). E repetia, para que os demais presos pudessem ouvir e testemunhar sua resistência, que só havia dito seu nome.
A rememoração desse nome, que recebe um caráter especialmente tocante com os recursos de áudio do podcast, dá um foco pessoal à narrativa. Como em trabalhos anteriores do autor (Vala de Perus: uma biografia, Alameda, 2020, também adaptado para podcast), o intuito é apresentar, na forma de uma biografia, não apenas uma vida, mas muitas. No caso de Eu só disse meu nome, Alexandre está, é claro, no centro, mas sua história traz as imagens — na delicada abordagem de toda a repercussão, tanto íntima como pública, de sua tortura e morte — que materializam a ideia jurídica de crime de lesa-humanidade, também no centro dos relatos e análises que vemos em Ilícito absoluto.
Narrativa resgatada
Os autores trazem narrativas de tipo diverso. Pádua Fernandes se volta para o público geral, mas o livro, firmemente calcado em pesquisa acadêmica, deveria ser de interesse especial a estudiosos da história e do direito brasileiros, especialmente da intersecção entre as disciplinas. Em 150 páginas de referências e notas, apresenta minuciosamente suas fontes, faz a discussão de perspectivas teóricas e históricas conflitantes, e revela manejo habilidoso de um valioso arsenal de documentos sobre a repressão. Apresenta, ainda, o que muitas vezes é esquecido nessa história: as denúncias de ilegalidades não só após, mas também durante o período ditatorial e as tentativas constantes de absolver o terrorismo de Estado — com a devida explicação sobre o equívoco jurídico de interpretar a Lei da Anistia como tendo esse efeito. As notícias e análises da imprensa recolhidas no livro dão o testemunho do quanto a história recente do país, com a resultante trágica da “volta dos militares ao poder”, é marcada pela resistência da política institucional em acertar as contas com ilegalidades passadas e presentes. Dividido em três partes, Ilícito absoluto constitui um denso ensaio sobre memória, verdade, justiça, potenciais e limites do direito nessa luta.
Em outra chave, Vannuchi escreve sobre um primo de segundo grau que nunca conheceu, mas cuja presença ausente e legado são definidores na trajetória do próprio autor. Isso confere ao livro traços de autoficção e autobiografia. No “Epílogo”, lemos ter sido realmente esta a intenção de Vannuchi, que afirma ter evitado escrever uma “reportagem puro sangue”. A pessoalidade do texto é, de fato, potente em seu efeito de reconstrução social das memórias políticas por meio da rememoração de abalos íntimos, tanto no livro quanto no podcast.
A escrita informal e fluida prende a atenção, potencialmente até de um público mais jovem e não particularmente afeito a narrativas históricas. Alexandre Vannucchi Leme é um protagonista-interlocutor, que o autor faz questão de nomear diversas vezes, como que usando o nome para dar ritmo às memórias recontadas (“Eleição direta para o DCE, Alexandre, você pode imaginar?” ou “Teu corpo, Alexandre, só foi devolvido em 1983”). Baseado em entrevistas e documentação histórica, reconstrói diálogos e narra eventos, muitas vezes em tom eletrizante. A descrição da relação de Alexandre com seu irmão e suas irmãs, e dos desdobramentos de seu abjeto assassinato em toda a família, é especialmente emocionante. Afinal, como lemos em passagem no meio da narrativa, “quando alguém é torturado, as marcas da tortura podem alcançar muita gente”.
Reparação e desalento
Nos dois casos, a leitura é recompensada pela sensação de testemunhar um esforço de reconstrução histórica que, se não deixa de ser amargo e trazer certo desalento, é também, em algum grau, reparador. Pelo lado desalentador, a lembrança trazida no início deste texto é de que a violência do Estado, mesmo em democracias formais, se perpetua na “amnésia socialmente programada” sobre os ilícitos cometidos, um vácuo no qual os algozes são aqueles a quem é permitido lembrar e até celebrar suas próprias violências.
A trajetória de Ustra é exemplar, como bem retratado por Fernandes: torturador no período mais sangrento da ditadura, converteu-se em um dos mais notórios defensores desse regime no debate público (revitalizado pela redemocratização à qual se opôs), lançou dois livros de “memórias”, integrou as redes de extrema direita então emergentes, e acabou por ser a referência de heroísmo militar celebrada por Bolsonaro. O ex-presidente, quando ainda deputado federal de relevância limitada, pode, em pleno Congresso Nacional, exaltar seu herói, um torturador à época já reconhecido como tal pela Justiça brasileira, no voto que proferiu pelo impeachment de Dilma Rousseff, e não ser responsabilizado.
Em razão de lacunas como essa, os soldados em formação da PM paulistana podem, neste 2024 em que se marca os sessenta anos do golpe militar, exaltar o morticínio no Carandiru e o comando do coronel Ubiratan. A luta pela memória da barbaridade brasileira ainda carece desesperadamente de medidas institucionais, como a conquistada pela família Almeida Teles, que responsabilizem os perpetradores.
Apesar disso, a rememoração das lembranças das vítimas, mesmo na ausência de institucionalidade adequada, é, em si, um processo de reparação da esperança. Que a família Almeida Teles tenha conseguido do Estado brasileiro o reconhecimento de que um de seus agentes foi um torturador é uma vitória que se perpetua no tempo — e ganha ainda mais significação com o livro que documenta cuidadosamente esse processo. O assassinato de Alexandre Vannucchi Leme, ao catalisar a oposição pública à ditadura e a retomada do movimento estudantil então enfraquecido pela clandestinidade à qual tinha sido relegado, é uma lembrança cuja rememoração exalta e dignifica a força simbólica de seu personagem.
Nos dois livros, persiste o testemunho de que a luta pela memória se faz também na liberação trazida pela palavra escrita. Palavra em que se expressa, para lembrar o famoso ensaio de Albert Camus, a “alegria silenciosa de Sísifo”, aquele que devemos imaginar feliz em sua luta para rolar pedra morro acima.
FONTE – https://quatrocincoum.com.br/resenhas/laut/memoria-e-reparacao/